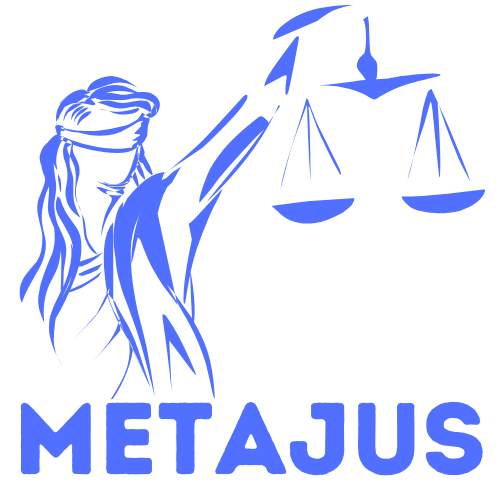JUSTIÇA CRIMINAL Uma explicação simples
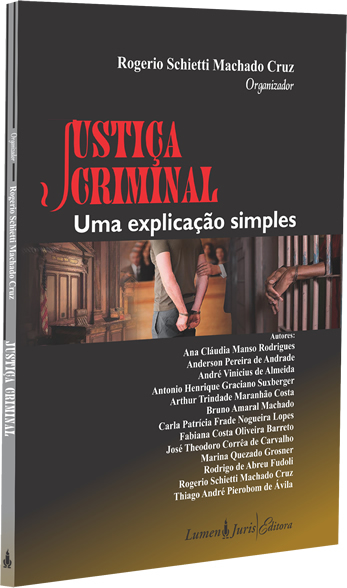
JUSTIÇA CRIMINAL Uma explicação simples
Apresentação
A justiça brasileira sempre se ressentiu de não ser suficientemente hábil para comunicar-se com os cidadãos. Razões culturais, linguagem técnica e excesso de formalismo são algumas das razões para esse distanciamento entre, de um lado, as leis, as autoridades, os tribunais e, de outro, o homem ou a mulher comum, sem formação superior específica.
Foi essa a maior preocupação que tivemos em mente quando decidimos escrever este livro, que se propõe a explicar ao leitor aquilo de que ele tem vaga ideia, ou nem mesmo isso. Ao ler um jornal, ao ouvir um noticiário ou ao assistir a um programa de TV, muitas vezes o cidadão comum perde-se no confuso palavreado jurídico, nem sempre devidamente traduzido pelo jornalista que dá a notícia ou pela pessoa entrevistada.
O resultado é um déficit de cidadania, com comprometimento da capacidade de gerir sua própria vida, de conhecer seus direitos e deveres, de compreender o que se passa em repartições policiais, em audiências e sessões de tribunais, e nos respectivos inquéritos e processos judiciais.
Reunimos, então, um seleto grupo de profissionais do Direito, membros da Magistratura, do Ministério Público, da Advocacia e professores universitários, os quais se prontificaram a atender ao objetivo comum estabelecido: escrever um livro sobre variados temas relativos à estrutura e ao funcionamento da Justiça Criminal, em linguagem que pudesse ser compreendida facilmente por qualquer leitor, mesmo sem formação em Direito.
É claro que não seria possível abrir mão de empregarmos, na medida do estritamente necessário, alguns termos e jargões próprios do Direito, explicando, porém, o seu significado com exemplos concretos, sobretudo com a lembrança de casos que foram manchetes na mídia.
Não posso deixar de agradecer, penhoradamente, aos principais colaboradores deste projeto, ou seja, os seus autores, que, com zelo e boa-vontade, abraçaram a ideia e a tornaram realidade.
Demonstrando desapego e impessoalidade, concordaram que todos nós escreveríamos os 14 capítulos que integram o livro sem identificação individual em cada uma dessas partes da obra, mesmo porque foram submetidas a uma revisão voltada a conferir às partes um sentido maior de unidade textual e metodológica.
Expresso, assim, meus agradecimentos sinceros a Ana Cláudia Manso Rodrigues, Anderson Pereira de Andrade, André Vinicius de Almeida, Antonio Henrique Graciano Suxberger, Arthur Trindade Maranhão Costa, Bruno Amaral Machado, Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes, Fabiana Costa Oliveira Barreto, José Theodoro Corrêa de Carvalho, Marina Quezado Grosner, Rodrigo de Abreu Fudoli e Thiago André Pierobom de Ávila.
Que a obra cumpra seu propósito e que, portanto, todos os que tiverem acesso às páginas que seguem tenham uma melhor compreensão acerca da Justiça Criminal do Brasil.
Brasília, primavera de 2011
Rogerio Schietti Machado Cruz
Leia a seguir alguns trechos dos capítulos iniciais do livro
CAPITULO 1
O PODER JUDICIÁRIO NA ESTRUTURA DO ESTADO
Para que seja compreendido esse mecanismo, é preciso, antes de mais nada, saber que o Estado, que representa a sociedade, é um só, mas, como possui diversas funções e atividades, pode ser melhor explicado ao identificarmos os seus grandes ramos, ou poderes.
Assim, temos órgãos responsáveis pela criação das leis (Poder Legislativo); órgãos incumbidos da execução dessas leis e da administração do País (Poder Executivo); e órgãos destinados a solucionarem os conflitos humanos, aplicando as leis aos casos concretos (Poder Judiciário).
O Poder Legislativo Federal (Senadores e Deputados Federais) vota e aprova as leis que prevêem penas a quem comete crimes (leis penais). O Poder Executivo (Presidente da República) interfere nesse processo de elaboração das leis, pois, além de poder propor ao Congresso Nacional a votação de um Projeto de Lei, também tem permissão para, após a sua aprovação pelo Poder Legislativo, vetar a lei, total ou parcialmente. O Presidente da República veta uma lei quando a entende contrária ou inconveniente ao interesse público, ou então quando ela contraria a Constituição da República.
Assim, quando alguém pratica um fato que está previsto na lei penal já existente, ou seja, quando pratica um delito (crime ou contravenção), entram em ação diversas pessoas, algumas funcionárias do Estado, outras não, para auxiliar na solução do caso.
Essas pessoas contribuem, cada qual com uma parcela, para a realização da Justiça. Falamos aqui do magistrado (Juiz, Desembargador ou Ministro), do representante do Ministério Público (Promotores de Justiça, Procuradores de Justiça e Procuradores da República), do Advogado (ou Defensor Público), do Policial (civil ou militar) e dos funcionários e auxiliares da Justiça (oficiais de justiça, escrivães, peritos, testemunhas e vítimas).
Vamos procurar entender a função de cada um, à medida em que acompanhamos o tratamento que o sistema da Justiça Criminal dá aos fatos considerados delituosos.. “Leia o texto completo no livro Justiça Criminal: uma explicação simples, já nas livrarias.”
CAPITULO 2
O INQUÉRITO
Quando alguém é vítima ou testemunha de um crime, a primeira decisão que deve tomar é se irá comunicá-lo à Polícia ou não. Por vários motivos, a maior parte dos crimes cometidos não é informada à Polícia (essa é, aliás, uma das razões para a impunidade, conforme demonstrará o CAPÍTULO 12), o que é um problema, porque, para que alguém seja responsabilizado por sua conduta criminosa, a primeira providência é comunicar o fato às autoridades (além da Polícia, também o Ministério Público pode receber denúncias).
Pois bem, quando a vítima decide ir a uma Delegacia de Polícia ou telefonar para algum número colocado à disposição da comunidade, a autoridade policial irá registrar uma ocorrência.
Percebendo que se trata de um crime, o Delegado de Polícia deve investigar de que modo o crime ocorreu e identificar quem foi, efetivamente, o seu autor. Eis a função principal de um inquérito policial.
Às vezes esse inquérito policial é concluído dentro do prazo legal, ou seja, 30 dias, principalmente quando o autor do crime foi preso em flagrante (o prazo é menor, de 10 dias), o que ocorre quando ele foi flagrado cometendo ou crime, ou logo depois foi perseguido, ou, ainda, quando foi encontrado com objetos relacionados ao crime.
Nessas hipóteses, a prisão do suspeito pode ser executada por qualquer pessoa do povo (a própria vítima, por exemplo), ou mesmo por um policial (geralmente um policial militar, que, na realidade, tem o dever legal de efetuar a prisão). O policial, então, “dá voz de prisão” ao suspeito, conduzindo-o, imediatamente, a uma Delegacia de Polícia, momento a partir do qual a lei assegura ao preso uma série de direitos.
Se, todavia, a pessoa não foi detida no momento em que cometia o crime, ou poucas horas depois, ela somente poderá ser presa por ordem judicial, não podendo o Delegado de Polícia ou qualquer outra autoridade fazê-lo. (ver CAPÍTULO 4).
O certo é que, preso ou não, a pessoa apontada como autora do crime será investigada e isso é feito, quase sempre, pela Polícia Civil (ou pela Polícia Federal).
O inquérito policial (ou outro tipo de investigação feita por outra Instituição diferente da Polícia) tem, assim, dois objetivos principais:
1. Investigar o crime, identificando o seu autor e esclarecendo a forma como foi cometido;
2. Reunir informações para que possa ser iniciado um processo contra o autor do crime.
É importante saber que, para processar criminalmente alguém, torna-se necessário reunir dados que dêem ao Promotor de Justiça – o responsável pela acusação pública – o máximo de convicção possível quanto à culpabilidade do suspeito.
Responder a um processo criminal é algo muito sério, tendo em vista o estigma social e pessoal que um processo traz ao réu e a seus familiares, além, é claro, do risco de perda da liberdade. Assim, é natural que o Estado deva ter algum cuidado para fazer a acusação, e eis aí, então, o segundo objetivo do inquérito.
Para esse propósito, a autoridade deverá colher o depoimento das pessoas que de alguma forma podem trazer informações sobre o que ocorreu. A vítima, as testemunhas e a pessoa suspeita devem ser ouvidas, ficando tudo registrado. Além disso, muitas vezes é necessário fazer perícias e outras diligências que tomarão um certo tempo até que todo o material a ser utilizado pela Promotoria esteja pronto.
Realizadas, então, essas investigações, o inquérito será encaminhado ao Promotor de Justiça (só em pouquíssimos casos a lei autoriza a vítima a fazer o papel de acusador), que, após analisar as informações colhidas durante as investigações, poderá tomar duas decisões:
1. Arquivar o inquérito, quando concluir que não há provas para afirmar que existiu o crime investigado, ou que o indiciado tenha sido o seu autor;
2. Acusar, formalmente, o autor do fato, o que deve fazer por meio de uma peça processual chamada denúncia, dirigida ao Juiz de Direito responsável pelo caso, ou seja, ao juiz competente.
Como se perceberá melhor no próximo item, esta primeira fase daquilo que se chama persecução penal não se confunde com o processo (ou com a ação), visto que ali ainda não existe uma acusação formalizada contra alguém. Embora o suspeito do crime já possa estar até mesmo indiciado formalmente como o autor do delito, somente com o início do processo ele assume a condição de réu (acusado), com os direitos e obrigações decorrentes de tal situação.
. “Leia o texto completo no livro Justiça Criminal: uma explicação simples, já nas livrarias.”
CAPITULO 3
DAS LEIS
Mesmo que não percebamos, a vida de cada um é disciplinada por diversas normas, que constam da Constituição, dos tratados internacionais, das leis, dos decretos. Esses instrumentos normativos disciplinam a vida dos brasileiros, inclusive em relação à criminalidade no seio social e ao exercício do direito de punir pelas autoridades públicas.
Essa ampla regulamentação afasta a possibilidade de vingança privada, em que cada um faria justiça com as próprias mãos. Apenas à justiça criminal é reconhecida a punição de alguém que cometeu um crime.
Além disso, essa punição deve obedecer a parâmetros estabelecidos na Constituição, nas leis penais e processuais penais, para que não se transforme em arbitrariedade praticada pelos agentes do Estado. Punir, é certo, mas dentro do que dispõem a Constituição e as leis. E não faltam normas para essa disciplina. (…)
O CÓDIGO PENAL E O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
O código constitui um único texto de lei com normas relativas a uma determinada área do direito, como por exemplo o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, Código de Processo Penal.
E é justamente no conteúdo das normas que compõem esse corpo legal que está a diferença entre o Código Penal e o Código de Processo Penal.
O Código Penal (CP), em seus 361 artigos, prevê os crimes, disciplinando o poder de punir do Estado e estabelecendo as medidas aplicáveis (pena ou medida de segurança) como conseqüência jurídica da sua violação. É lá que estão vários dos crimes previstos, como homicídio (art. 121), lesão corporal (art. 129), furto (art. 155), roubo (art. 157), estelionato (art. 171), estupro (art. 213), falsidade ideológica (art. 299), corrupção ativa (art. 333), entre outros.
Já o Código de Processo Penal (CPP), com 811 artigos, estabelece as normas relativas aos processos que serão instaurados em razão do descumprimento do Código Penal. Assim, disciplina a sequência de atos que se iniciarão a partir do momento do conhecimento do crime, passando pelo inquérito policial, formulação da acusação (denúncia), produção das provas, exercício do direito de defesa, até se alcançar a sentença final. É no Código de Processo Penal também que estão previstos os recursos cabíveis de cada decisão judicial proferida no decorrer do processo.
Por exemplo: o crime de homicídio está previsto no Código Penal (art. 121 do CP); quando uma pessoa mata alguém, será submetida a um processo penal, cujo rito e tramitação estão disciplinados pelas normas do Código de Processo Penal, especialmente no Capítulo do Procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP).
É importante ressaltar que os códigos não exaurem todas as normas penais e processuais penais vigentes no Brasil. Assim é que há outras normas que não se encontram no corpo do Código Penal ou do Código de Processo Penal, mas estão previstas em leis esparsas, editadas isoladamente (legislação extravagante). É o caso da Lei nº 9.605, de 1998, que estabelece os crimes ambientais, e a Lei nº 9.099, de 1995, que disciplina o os processos no Juizado Especial Criminal, dentre tantas outras leis de igual importância. “Leia o texto completo no livro Justiça Criminal: uma explicação simples, já nas livrarias.”
CAPITULO 4
Tipos de pena existentes no Brasil
O Código Penal brasileiro prevê que as penas devem ser necessárias e suficientes à reprovação e à prevenção do crime1, aí incluída a necessidade de ressocialização do delinquente.
As penas, assim, quando aplicadas ao condenado, deveriam servir para: castigar o réu pelo mal que causou; desestimular, no réu e nas demais pessoas, a prática criminosa; neutralizar o delinquente, retirando-o, se necessário (com a prisão), do convívio social, e por fim tratá-lo para que possa voltar à sociedade.
A principal sanção ou pena é, sem dúvida alguma, a privação da liberdade do infrator. Mas no nosso sistema de justiça criminal, a prisão é apenas um dos tipos de pena, pois além dela são previstas as penas restritivas de direitos e a pena de multa.
As penas privativas de liberdade podem ser de dois tipos: reclusão ou detenção, com algumas diferenças entre elas, estabelecidas tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Mas, em ambas, o réu tem sua liberdade cerceada, ou seja, fica impedido de ir e vir na hora e para o lugar que quiser.
Nas penas restritivas de direitos, o réu pode ficar sujeito a pagar uma quantia em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a alguma entidade; perder bens ou valores que lhe pertencem; prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas; ter alguns direitos interditados temporariamente, como por exemplo o direito de exercer cargo público ou de exercer certa profissão; ser obrigado a se recolher durante o fim de semana, por algumas horas; permanecer em determinado local que o juiz indicar.
A multa, por fim, consiste no pagamento de quantia determinada na sentença, dentro de limites fixados na lei. (…)
Pode-se dizer que a prisão é a principal forma de punição no sistema de justiça criminal brasileiro. O número de presos vem aumentando significativamente nos últimos anos, tendo já ultrapassado meio milhão de pessoas encarceradas, o que coloca o Brasil em quarto lugar no ranking mundial dos países com maior número de presos, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia.
Um dos critérios mais usados para avaliar um sistema penitenciário é a verificação do número de pessoas presas por cada 100 mil habitantes do país. Entre nós, essa relação, em dezembro de 2010, era de 253 presos por 100 mil habitantes.
Esse número é bem superior ao que se registrou em anos anteriores. Segundo dados do Ministério da Justiça, havia no Brasil, no ano de 1992, pouco mais de 114 mil pessoas presas. Passados 15 anos, em 2007, esse número já era superior a 422 mil pessoas encarceradas. Por sua vez, a população do Brasil em 1992 era de cerca de 150 milhões de habitantes; em 2007, já éramos mais de 192 milhões.
O que podemos concluir? Que, enquanto a população em geral no Brasil cresceu 28% entre 1992 e 2007, o número de pessoas presas, nesses quinze anos, aumentou quase 10 vezes mais, ou seja, cresceu 270%.
“Leia o texto completo no livro Justiça Criminal: uma explicação simples, já nas livrarias.”